
Crédito, Reuters
- Author, Jonathan Marcus
- Role, Analista de Defesa da BBC
O presidente americano, Barack Obama, foi claro: o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) representa uma ameaça não só aos aliados de Washington e seus interesses no Oriente Médio. Pode se tornar, em breve, uma ameaça também para o próprio território americano.
Obama quer uma ação conjunta e já obteve o apoio de vários países no combate ao EI, grupo extremista que já domina partes do Iraque e da Síria.
Aliás, a ameaça do EI já aproxima nações com diferenças históricas, como o Irã e a Arábia Saudita – redutos de xiitas e sunitas, respectivamente –, ambos dispostos a ajudar o governo iraquiano.
Para Obama, acusado por muitos de ter evitado um protagonismo na guerra da Líbia, isso representa oportunidade de reafirmar um papel de liderança dos EUA.
“Como americanos, nós agradecemos e aceitamos a responsabilidade de liderar”, disse.
Estratégia
A ofensiva de Obama será bem recebida em alguns países-chave do Oriente Médio, onde a inação americana – em especial no que diz respeito à guerra na Síria – prejudicou a posição do país.
Longe de não ter uma estratégia, como parecia ser pouco tempo atrás, o plano de quatro pontos de Obama – incluindo ataques aéreos, fornecimento de equipamento para combates em terra, ações antiterrorismo e assistência médica e humanitária – se sustenta nas políticas adotadas até agora no Iraque.
Se a preocupação dos Estados Unidos inicialmente parecia ser apenas impedir o avanço dos combatentes do EI, agora Obama quer ir mais longe: a retirada total do Estado Islâmico dos territórios ocupados. Para isso, conta com apoio interno e em vários países do Oriente Médio.
Mas essa grande aliança com países da região pode funcionar de fato?
Isso depende do esforço da coalizão. Arábia Saudita e Catar – aliados de Washington – têm que fazer mais para limitar o financiamento local para o Estado Islâmico.
A Turquia terá de evitar que combatentes atravessem as fronteiras com a Síria para lutar pelo Estado Islâmico.
E, acima de tudo, será que as diferenças entre os países serão superadas a médio prazo para que essa estratégia tenha tempo de colher frutos? Ou as velhas inimizades virão à tona assim que os primeiros ataques aéreos tiveram algum tipo de sucesso?

Crédito, AP
Vale lembrar que as negociações sobre o programa nuclear do Irã também podem, a qualquer momento, prejudicar o objetivo da aliança estratégica entre Washington e Teerã.
Riscos militares
Mas o grande teste para a coalizão virá do Iraque e da Síria. O novo governo iraquiano abriu caminho para uma ação militar ampla dos Estados Unidos no país. Só que os desafios continuam, tanto na esfera política quanto na militar.
O processo de reforma política no Iraque ainda está no começo. O novo governo não está completamente formado e tem muito a fazer para acalmar a minoria sunita.
Alguns regimentos-chave do Iraque treinados pelos Estados Unidos simplesmente se desmantelaram diante dos ataques do EI. Obama fala em reconstruir essa força militar. Outros 475 homens – entre treinadores e conselheiros – serão enviados para o Iraque.
Mas será preciso tempo, tanto para estabelecer um governo mais equilibrado quanto para formar um Exército mais efetivo.
Ao propor ampliar os ataques aéreos até a Síria, Obama está se curvando ao inevitável – não faz sentido permitir que o Estado Islâmico tenha, ali, uma espécie de santuário.
Mas essa estratégia envolve riscos militares. É verdade que, considerando as defesas aéreas da Síria, as vantagens técnicas dos Estados Unidos e o fato de o regime sírio também ser ameaçado pelo EI, o risco para os pilotos americanos é reduzido (caso sejam usados aviões tripulados, em vez de drones).

Crédito, AP
É verdade que, ao combater um inimigo do presidente sírio, Bashar al-Assad, o perigo é de o plano americano ajudar a perpetuar o ditador no poder.
É aí que entra o treinamento americano para o Exército Livre da Síria – o principal grupo de oposição no país. Mas essa é uma oportunidade que pode já estar perdida. Não há dúvidas de que essa organização rebelde pode se tornar uma ameaça real a Assad, mas se isso acontecer, também vai demorar.
Bons amigos, velhos desconhecidos
Há também uma curiosa falta de visão estratégica quanto à Síria.
Muitos analistas temem que uma eventual saída de Assad mergulhe o país no caos, com potenciais massacres da minoria alauíta e com a intensificação de lutas entre grupos inimigos competindo pelo poder.
O que é necessário mais do que nunca é uma visão clara do que seria a Síria pós-Assad, envolvendo Washington e os principais líderes regionais.
E há ainda outra questão crucial que a atual coalizão não deve responder: a ascensão do Estado Islâmico e seu domínio em parte da Síria e no Iraque deriva das revoltas motivadas pela chamada Primavera Árabe – enquanto se renova o controle militar no Egito, muitos ainda nutrem esperanças de mudanças e sociedades mais abertas e democráticas no mundo árabe.
O Estado Islâmico, neste sentido, é um sintoma dos problemas da região e ameaça países e governos – muitos dos quais estão longe de se democratizarem.
Esta é a coalizão com a qual Obama tem de trabalhar. Juntando antigos inimigos por um futuro incerto.
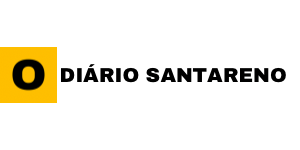
















Deixe um comentário